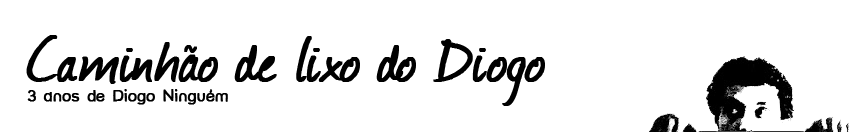|
| (THE HANGOVER PART III, 2013) |
O bando de lobos está de volta na terceira parte da aventura de Se Beber, Não Case. O novo longa apresenta uma proposta diferente do presenciado nos filmes anteriores. Apesar de continuar com o formato de escala caótica de acontecimentos, deixa o “apagão” dos personagens de fora, encontra novas justificativas e, justamente por isso, acaba sendo o menos engraçado dos três.
Mas existe algo que precisa ficar claro ao se dizer que Se Beber, Não Case - Parte 3 não é tão bom quanto seus antecessores. A problemática envolve aquilo que público e críticos gostam, ser surpreendido. Quando o primeiro filme chegou, em 2009, sua premissa era inovadora, o blackout, e a retomada dos acontecimentos atribuíram ao filme todo o sucesso capaz de arrecadar muitas vezes o valor de seu custo.
Quando a segunda parte estreou, em 2011, ela seguiu os mesmos passos do primeiro, e apesar de fazer as mesmas piadas e contar com algumas tiradas inteligentes como justificativa, foi vista com maus olhos e sofreu com argumento de que havia “perdido a originalidade”. O terceiro filme segue o mesmo rumo, um pouco mais sutil e sisudo, mas sofre as mesmas recriminações.
Pois bem, no cinema a originalidade anda de mãos dadas com o pioneirismo. Se um filme inovador transforma-se em uma franquia, ele vai utilizar da mesma fórmula de sucesso nas continuações, aconteceu com Bruxa de Blair, Atividade Paranormal, e naturalmente acontece com Se Beber, Não Case. Dizer que a parte três perdeu a originalidade de seu precursor é nada mais do que um pleonasmo.
O novo encontro de Alan, Stu, Phil e Doug se deve a uma intervenção na qual os amigos e família de Alan decidem interná-lo em uma clínica psiquiátrica. Daí para frente o filme assume um formato road trip que os leva a Tijuana e depois de volta a Las Vegas. Se Beber ,Não Case - Parte 3 é o episódio final de uma trilogia, e tal responsabilidade acaba por nublar, diante dos olhos do público, a identidade dele sobre a franquia, caindo sempre nas inevitáveis comparações com seus precursores e tornando difícil julgá-lo separadamente.
Mas seu diretor, Todd Phillips, é um sujeito inteligente. Ele costura os três filmes ao se valer da participação de John Goodman, como um fora da lei que foi prejudicado pelos acontecimentos dos dois primeiros filmes. Tenta ainda compensar a falta da originalidade do filme de 2009 com a supervalorização dos personagens de Zach Galifianakis, Ken Jeong, que interpretam Alan e Mr. Chow. A própria presença de Heather Graham, como a mãe do bebê Carlos, serve de elemento para concretizar a trilogia.
Neste aspecto Phillips é merecedor de elogios, dificilmente uma trilogia hollywoodiana é pensada antes de chegar as telas, aquilo vislumbrado em Senhor dos Anéis ou em Star Wars já não é mais um produto muito rentável. Em sua maioria, os estúdios criam franquias e decidem terminá-las quando notam que não se pode mais explorar o produto, obtendo resultados lastimáveis como Jurassic Park ou Transformers.
Se Beber, Não Case - Parte 3 cumpre aquilo que se podia esperar dele: um filme divertido que proporciona a oportunidade ao público de reencontrar personagens tão marcantes. Tem ainda cenas épicas como a abertura em uma rebelião no presídio de segurança máxima de Bangkok, e um pós créditos alternativo em relação às tradicionais fotografias. Mas é apenas mais um produto comercial que acaba por denegrir toda a franquia, coisa comum na Hollywood dos dias atuais.
Diogo S. Campos